(Clique nas imagens para aumentar/Click images to zoom.)
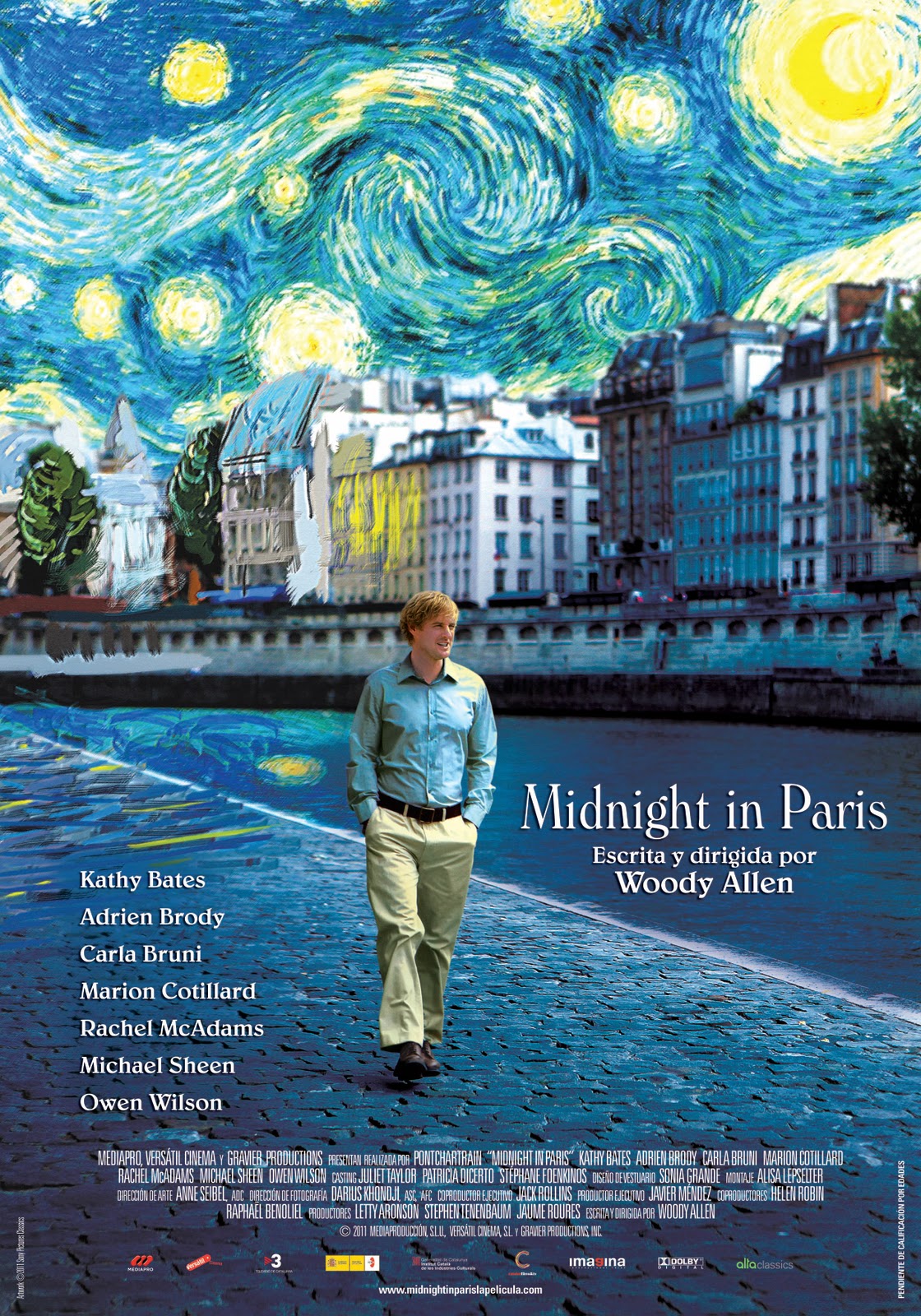
Woddy Allen nunca esteve rigorosamente estático em uma posição de conforto por mais que o automatismo cada vez mais explícito na produção e construção de seus filmes esteja tão mais presente. É um bom exemplo daquele sujeito que possui facilidade em caminhar em diferentes zonas, conseguindo reunir em uma só personalidade e trabalho tanto o perfil geek cultural quanto o piadista ranzinza. Seja por um ou outro está aí a maneira relativamente fluída com que ele consegue se expressar ao longo da carreira com seus personagens e histórias e, claro, por extensão em sua vida, através da direção cinematográfica. Não seria mero acaso a razão pela qual dentro de uma, cada vez mais inutilitária, categoria de ‘filme de arte’ seus filmes acabem encontrando tanto os antigos apreciadores de uma cinematografia empinada quanto o ávido público moderno e risonho das cadeias de Cineplex.
Isso se reflete em muitos de seus filmes nos quais uma porção erudita seja pela música, artes plásticas, teatro e ópera acaba se misturando a uma despretensão cínica e bem humorada dos costumes contemporâneos.

O filme começa mostrando uma série de planos fixos de Paris à moda de Richard Linklater em ‘Antes do Pôr-do-Sol’ (Before Sunset), naturalmente com intenções bem diferentes. Os planos seguem os três períodos de luz indo da manhã e dia, passando pela tarde e chegando ao anoitecer. Ironicamente pensei em como o título seguido de uma emulação de créditos finais após esses primeiros minutos de filme poderia gerar uma piada pronta, apesar de sacana. Claro que não aconteceu, mesmo que exista certa ironia na extensa duração, para um filme de ares de entretenimento, desses planos com a trilha sonora como se em determinado momento você pensasse ‘ok, já entendi’. A inegável beleza clichê da série inicial de planos cartões-postais sutilmente dá lugar a indícios de vontade em caçoar desses mesmos signos pelos quais somos inevitavelmente conquistados em sua pieguice e iconicidade. Esta relação virá novamente depois na idéia que o filme nos trará sobre uma nostalgia enganosa, ao mesmo tempo inflada de superficialidade, subjetivismo e encanto.
Estamos em Paris da mesma forma com que estivemos em Barcelona no falsamente alegre ‘Vicky Cristina Barcelona’. Isso significa o rápido inventário turístico dos espaços esperados, de museus, ruas, e fachadas. A geografia dos filmes europeus de Allen sempre recorre a este fascínio contido pelo reconhecível, extração de uma imagem cada vez mais reproduzida e esgotável. A sedução começa pelo que há de mais objetivo e simples: eu acredito e gosto daquilo que eu conheço.

Mas a presença desses tipos não basta para Allen mostrar a ineficiência satisfatória do desejo do e pelo estrangeiro, surgirão naqueles acasos controlados pela câmera Paul (Sheen) e Carol (Nina Arianda), um casal de amigos de Inez que residem na cidade. Caberá a este o antagonismo iludido do protagonista Gil, mais um alter ego do diretor. Não que os dois personagens possam ser dois lados de uma mesma persona, mas não deixam de partilhar igualmente, mesmo que de maneira oposta, o vislumbre por um conhecimento adquirido e fantasiado em sua interioridade. No caso de Paul uma pseudo intelectualidade que confronta até mesmo uma delicada e apática guia turística (Carla Bruni). Já Gil guarda consigo o interesse por Paris naquilo que ela tem de mais conquistador, seu clima, seus mistérios, suas memórias. Ambos são enganados por suas subjetividades. O motivo de suas paixões é interior e artístico: inteligência egocêntrica que reverbera surdamente para um, imaginário idealizado que desconcerta cegamente no caso do outro.

Depois de três vezes ‘Paris’ só podemos esperar por alguma mágica. Pois é: repetição, feitiço, desgaste. O cinema mais uma vez fará surgir o que dele é esperado em primazia e potência. O Cinderelo de Allen, desajeitado e infantil, em vez de virar abóbora, no tocar das horas tem seu eixo de realidade transformado, presenteado pela câmera de condão do diretor. O público idem, pois contará com um desfile condizente com suas expectativas parisienses de arte e magia.
Num passeio noturno informal e solitário Gil se depara com um carro de época que pára diante dele e alguém o convida para embarcar. Um tanto embriagado após um fim de tarde de degustação de vinhos ele acaba entrando no carro onde algumas pessoas com vestimentas antigas parecem seguir para um requintado baile temático. A espécie de carruagem regada em seu interior a ainda mais bebida, animações e frescor desembarcará realmente numa festa. Lá Gil encontrará para sua surpresa o começo de uma exposição enciclopédica de figuras célebres do imaginário coletivo, particularmente das áreas intelectual e artística.
Nesta festa absurda e deslocada com muito requinte e brilho ao som de um Cole Porter (Yves Heck) vivamente real Gil encontrará o casal Fitzgerald, F. Scott (Tom Hiddleston) e Zelda (Alison Pill) em meio ao seu primeiro sinal de assombro. O inicial espanto de Gil dará gradativamente lugar a uma aceitação cada vez mais natural. Nem mais o sintoma de uma embriaguez exagerada será sinal da perda de uma consciência de mundo real. O mundo real é aquele que vemos de acordo com nossas vontades e para o espectador é aquele que vemos diante da tela.

A partir daí o filme irá oscilar entre os dois registros e tempos, continuando com seu itinerário diurno com Inez, família e casal de amigos e as madrugadas entorpecidas de passado e imaginação sempre partindo do mesmo ponto, após as badaladas do relógio.
Durante o novo retorno que faz à década de 30, já no apartamento de Gretrude Stein, Gil acabará conhecendo Adriana (Marion Cotillard) e Picasso (Marcial Di Fonzo Bo), aquela sendo a inspiração de uma de suas pinturas que está sendo mostrada e discutida na sala da casa de Stein. Gil entrega seu livro, sobre uma loja retro, a Gertrud ao mesmo tempo em que fica hipnotizado com a figura de Adriana que acabará se tornando dentro daquele universo por outras madrugadas o grande fio de inspiração e espelhamento. Adriana não apenas por ser menos figurativa do que os outros nomes (teremos ainda a presença de Joséphine Baker , Dali, Buñuel, Man Ray, T.S. Eliot) acabará se destacando dentre todos eles. É como se fosse uma imagem que gradativamente parecesse descolar do álbum dourado ao qual todos os outros pertencem, ganhando uma autonomia estranha, ao mesmo tempo em que faz parte daquela década em suas roupas, graciosidade e pensamento parece destoar de todos, ressoando também a vontade por uma transfiguração.

E é justamente quando esta normalidade entre as cronologias vai se instaurando, tanto para Adriana que rapidamente se vê enormemente habituada e confortável naquela época quanto para Gil já acostumado com suas diárias transições temporais que o filme encontra seu estalo. Tudo pode ser facilmente assimilado e vivido, todo o tempo se converge e é um só. Mas somente agora, através de uma Adriana igualmente deslumbrada e acomodada em sua fantasia, que Gil percebe como não só passado e presente podem ser relativos em relação aos nossos próprios anseios, projeções e vontades, como inevitavelmente o encanto não está nunca no outro, seja um amor alheio, a vida do vizinho ou no caso um passado coletivo idealizado. Este encanto sempre estará dentro de nós, sendo que em se tratando de um filme de Woody Allen esta constatação sempre soará menos iluminada e um tanto mais melancólica do que o esperado. Localizado em minha interioridade, tanto faz o tempo ou época vivida, seja os anos 30 e a Belle Époque, o Renascimento ou qualquer outra, sempre haverá uma vontade de deslocamento, uma inadequação existencial que invariavelmente permeiam todos os seus filmes.

By Matheus Marco
matheusmarco@brrun.com
[Pics: ©advertisement.]
